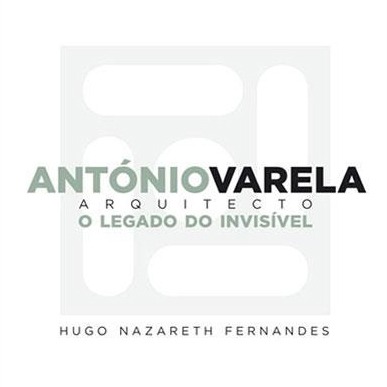
O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes
O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes
Autor: HUGO PHILIPPE HERRENSCHMIDT DA NAZARETH FERNANDES DE CERQUEIRA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


“…cuidado do traçado das fachadas, de sua iconografia e de sua publicidade, sendo a imagem e a essência como um todo indivisível, cristalizado iconograficamente no seu logotipo.”
Fig. 233 ARS arquitectos, modelo teórico de uma fábrica de conservas, in Conservas de peixe, 1946.
6.3.5. O modelo teórico do atelier ARS arquitectos publicado em 1946. 76
76 Referimos «publicado» no que diz respeito, propriamente, ao artigo. No que respeita à elaboração do modelo teórico pelo atelier ARS (constituído por Fortunato Cabral, Morais Soares e Fernando Cunha Leão, autores, entre outras obras modernas, do Mercado do Bom Sucesso, Porto, 1949-1952), não nos foi possível apurar a data exacta de sua concepção: parece, e apenas isso, que terá sido realmente elaborado já no período do pós-guerra e com o propósito expresso de publicação na imprensa, pelo que se depreende do tom geral do artigo.
No crescente esforço de racionalização de meios através da busca de uma arquitectura que se queria cada vez mais funcional e do qual a fábrica de Varela surge como uma resposta pioneira, seria contudo interessante referir um artigo intitulado Uma Fábrica de Conservas Moderna, do atelier ARS Arquitectos, publicado na revista Conservas de Peixe em 1946, como proposta de um modelo teórico de fábrica de conservas [fig.233].
“Até ainda bem pouco tempo ninguém se preocupava com o desenvolvimento racional das instalações para uma Fábrica de Conservas. Erguiam-se grandes barracões mais ou menos amplos semeados de pilares, instalavam-se lá dentro os maquinismos irremediavelmente condicionados à rigidez dos apoios intermédios e à disciplina da construção, desprezando em absoluto as exigências do fabrico. Grande parte das actuais Fábricas de Conservas ainda é caracterizada por uma certa desordem perturbadora na secessão natural das diferentes fases de produção. A disposição desastrada dos edifícios e dos acessos interrompendo a continuidade das operações, só serve de pretexto a inconsoláveis passeios do pessoal e a longos percursos sem vigilância na circulação das matérias primas e dos produtos, diminuindo o rendimento dos maquinismos e aumentando a fadiga dos operários. Uma regra se pode opor a esta desordem coordenando todas as coisas no tempo e no espaço – O FUNCIONAMENTO EM CADEIA – como verdadeiro sistema imposto ao fabrico para manter a continuidade e contiguidade das operações e solidarizar todas as suas fases. A sequência das operações ordenada segundo uma linha continua, verdadeira via de transporte em sentido único, desde a entrada das matérias primas passando pelos locais de preparação, onde se ramifica de modo a servir cada máquina, até ao armazém dos produtos terminados e de expedição, reproduz as fases de um circuito sanguíneo de um corpo organizado. Ficamos assim longe da confusão pelo entrecruzamento e sobreposição da circulação dos produtos, dos operários e dos quadros. A juntar a esta disposição racional há que ter em consideração o progresso realizado no equipamento industrial nos últimos anos, no sentido de se obter maior produção por unidade de tempo sem prejuízo da qualidade do produto” (Conservas, 1946) 77 .
77 In Uma fábrica de conservas moderna , artigo do atelier ARS Arquitectos , Conservas de peixe , 1946.
Citam os autores, seguidamente, toda uma série de equipamento industrial inovador, “maquinismos com que já estão equipadas algumas fábricas modernas” (id., ibid.), assim como a questão da higiene das instalações “hoje objecto de louvável preocupação dos modernos industriais” (id. ibid.): Seria importante notar que em 1946 já era possível confirmar a existência, para além da fábrica da AEL de Matosinhos (1939), de outras unidades fabris com essas mesmas características modernas e que considerámos como a segunda geração de fábricas conserveiras, iniciada com a fábrica da A.E.L., e das quais ainda se podem destacar a fábrica de Benito Garcia (1943), na Afurada, também da autoria de António Varela, e a fábrica de Januário Godinho, em Matosinhos, já no pós-guerra, como estabelecimento e plena afirmação de um modelo que terá sido ainda pioneiro com o exemplo da fábrica da AEL, no fim da década de Trinta.
De facto, tornam-se patentes no discurso de 1946 do ARS Arquitectos, certos princípios de ordem característicos do Movimento Moderno, e que já tinham sido anteriormente postos em prática por António Varela no projecto da fábrica da AEL, sete anos antes:
“Trata-se de cerrar o trabalho das condições normais da natureza, de Sol, espaço e limpeza, como meio natural que preside à longa e minuciosa formação do ser humano. Só assim se conseguem transformar radicalmente as condições de trabalho, dando conforto e uma certa alegria a esta parte mais longa e mais dura da vida. A todos estes factores, ideias e regras tem de se atender na elaboração dum projecto para uma fábrica de conservas moderna para rasgar novos horizontes à produção desprezando os usos rotineiros. De acordo com estes princípios se elaborou o desenho que a gravura representa, que como se verifica, não tem a pretensão de ser um projecto, mas sim um esquema estrictamente funcional da parte mais importante de uma Moderna Fábrica de Conservas. À roda desta zona gravitam todas as secções subsidiárias que não vale a pena enumerar por serem do conhecimento geral. Adoptá-lo é uma questão de ética, uma decisão do espírito, a aceitação de um ponto de vista. Os meios estão todos ao alcance e à disposição de quem queira elaborar o plano” (Id., ibid.) .
Em resumo, e num quadro histórico alargado, relembramos que no que respeita a evolução do modernismo na arquitectura portuguesa, foi indubitavelmente a década de Trinta o tempo do surgimento das novas oportunidades. O Estado Novo começou lentamente a tomar forma e a sua edificação, inseparável do pensamento político salazarista, realizou-se com a criação da União Nacional, em 1932, com a Constituição, o Estatuto do Trabalho Nacional e os Sindicatos Nacionais, em 1933, o que permitiu, nesta fase primordial, o relançar da economia e da indústria 78. Nesta década de Trinta, onde os arquitectos da nova geração moderna ainda «acreditou» numa possível reforma geral da arquitectura feita através da aplicação de princípios modernos, pela relativa liberdade geral com que alguns arquitectos ainda exerceram a sua arte, antes do retrocesso geral da década de Quarenta79. Esta arquitectura passou, mais tarde, nessa década, para uma «arquitectura de resistência», devido à inevitável e consequente cristalização do regime 80.
78 Cf. PORTELA, Artur, Salazarismo e Artes Plásticas, Biblioteca Breve/Volume 68, ed. Instituto da Cultura e da Língua Portuguesa, Divisão de Publicações, Lisboa, 1982, pp.76-77 [1ªed. 1987].
79 Idem, ibidem. Veja-se ainda a este respeito FRANÇA, J.-A., Terceira Parte – os Anos 40 e 50 , in A Arte em Portugal no século XX, Bertrand Editora, 3ª edição, Lisboa, 1991 [1ªed. 1974].
Foi no contexto da década anterior, no princípio de um novo impulso económico mas ainda sem uma nova ideologia de regime completamente consolidada, que a Algarve Exportador Limitada se expandiu maioritariamente e embora possuindo, desde a sua fundação em 1920, uma unidade em Lagos, seguida da de Lisboa e, mais tarde, Setúbal, Peniche e Nazaré, procedeu à construção de raiz de uma sexta fábrica, sedeada em Matosinhos, passando a assegurar estrategicamente o território nacional de norte a sul. O seu projecto foi encomendado a António Varela, e demarca-se das anteriores por ser das primeiras em Portugal onde surge um cuidado entre a organização de um espaço eminentemente funcional, conjugada a uma imagem empresarial moderna no quadro de procura de uma «estética industrial».
Isto significa que a fábrica de Matosinhos, para além de ter sido, desde cedo, reconhecida pela utilização dos novos processos de fabrico, assim como pela qualidade de seus produtos, assume-se como um exemplo para a época, pelo refinamento e o carácter inovador de uma linguagem moderna, pouco vista no ramo, tendo reforçado a imagem da própria empresa no panorama nacional e internacional. É o que transparece, no cuidado do traçado das fachadas, de sua iconografia e de sua publicidade, sendo a imagem e a essência como um todo indivisível, cristalizado iconograficamente no seu logotipo.
José Manuel Fernandes, no Inventário do Docomomo Ibérico Arquitectura e Movimento Moderno, comentando esse tempo da primeira geração do modernismo português, refere:
“(…) um tempo inicial, entre 1920 e 1930, necessariamente experimental, [de quando nos] ficam preciosidades, obras com linguagens díspares, espaços e formas radical ou moderadamente modernizantes. Da década turbulenta dos anos 40, são testemunho projectos que tentam denodadamente «romper» a pesada cortina política, nacionalista e autoritária que impregnava os dois estados ibéricos – é o começo e a glória de uma arquitectura de resistência” (DO.CO.MO.MO., p.6)81 .
81 FERNANDES, José Manuel, Apresentação do Docomomo Ibérico, in Arquitectura do Movimento Moderno – 1925-1965 – Inventário do Docomomo Ibérico, ed. Docomomo Ibérico / Fundação Mies Van der Rohe / Associação dos Arquitectos Portugueses, 1998, p.6.
Neste sentido, a fábrica de Matosinhos parece ilustrar o anteriormente citado, podendo-se situá-la entre estes dois tempos, sendo, em essência, um exemplo de um período de transição. E se é verdade que esta unidade integra uma raiz modernista e funcionalista – tendo sido, a seu tempo e no meio em que se implementou, um projecto radicalmente inovador –, mais do que isso, parece também revelar – mesmo através das suas ruínas, – o valor e a complexidade de um «estilo português de arquitectura modernista». Deste modo, reveste-se também de referências a um sistema cultural próprio e distingue-se da produção exclusivamente funcionalista do mesmo período.
Procurou-se assim, na primeira parte deste capítulo, observar a fábrica de Matosinhos de Varela no que respeita essencialmente o seu «uso». Foi necessário estabelecer um enquadramento prévio da história das tipologias da indústria conserveira para se conseguir compreender o caso particular desta fábrica, e que traduz invariavelmente o pensamento em acção do seu autor.
No entanto, as suas qualidades como obra arquitectónica parecem não se restringir unicamente ao seu «uso», à sua funcionalidade e à sua leitura histórica, mas também na sua capacidade de «representação», numa metodologia de composição que revela uma idealização própria.
Foi essa idealização que se procurou compreender na parte seguinte.
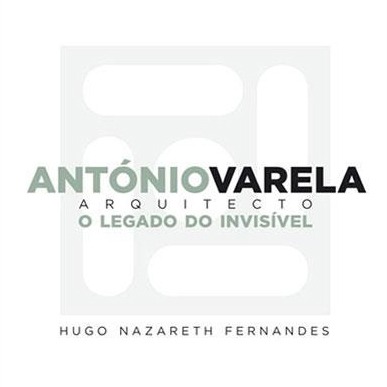
O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes
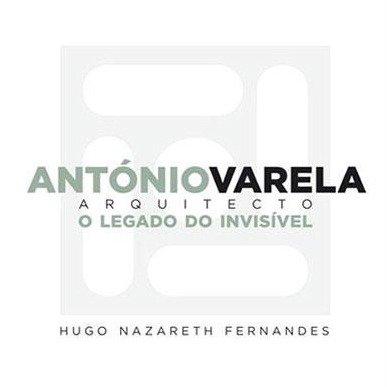
O Legado do “Invisível” 1 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL
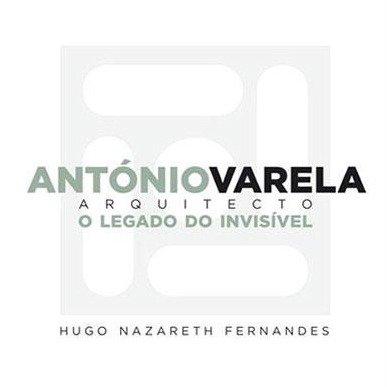
O Legado do “Invisível” 2 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)
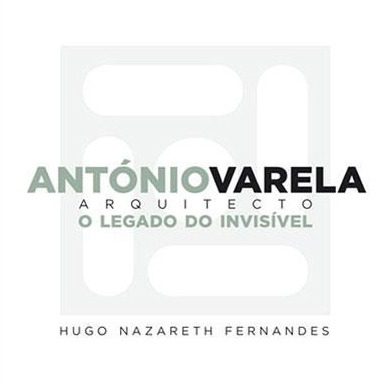
O Legado do “Invisível” 3 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)
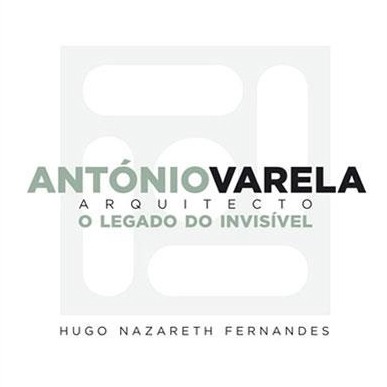
O Legado do “Invisível” 4 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)
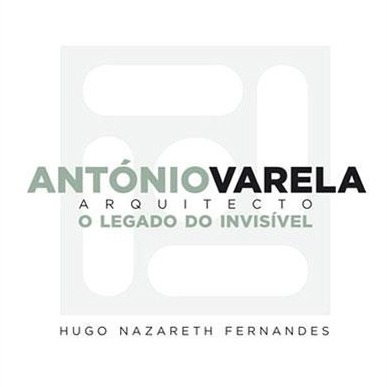
O Legado do “Invisível” 5 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)
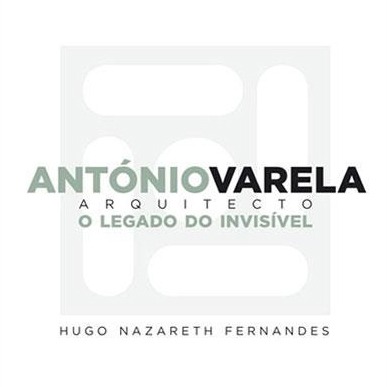
O Legado do “Invisível” 6 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)
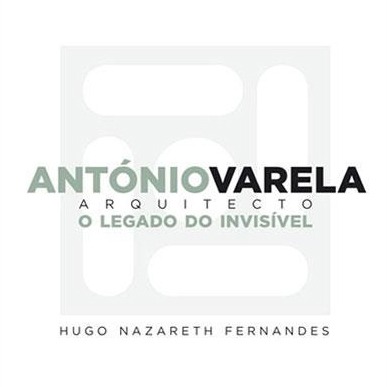
O LEGADO DO “INVISÍVEL” 7 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (final)
Terms of use
Contact
investigacao@conservasdeportugal.com
Other project links