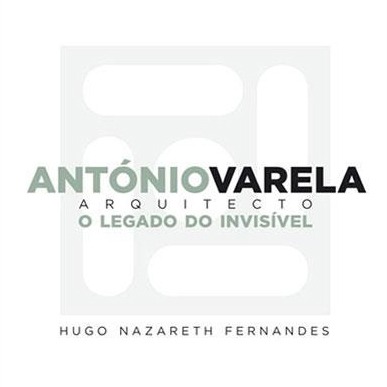
O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes
O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes
Autor: HUGO PHILIPPE HERRENSCHMIDT DA NAZARETH FERNANDES DE CERQUEIRA
6.2.3. Características das fábricas de conservas de peixe em lata no início do Século XX: o estabelecimento do modelo de Opperman.
Dentro de um quadro geral, partindo do paradigma do primeiro modelo de uma fábrica da Idade Contemporânea, do qual a fábrica de fiação de John Lombe (Séc. XVIII), pode ser considerada como o paradigma original, observa-se uma série de estudos, durante o século XIX, no que respeita ao estabelecimento de modelos de arquitectura industrial, dos quais destacamos um estudo efectuado na Grã-Bretanha pelo engenheiro Opperman. Devido à crescente especialização e o desenvolvimento geral das indústrias no quadro da evolução da revolução industrial britânica, Opperman, através de uma análise de vários exemplos observados na época, estabelece uma série de modelos para diferentes edifícios industriais, tendo em conta uma melhoria do existente, dos quais destacamos um modelo que este engenheiro inglês desenvolveu para a industria de conservas de peixe em particular.
Registam-se em Portugal, a partir de novecentos, toda uma série de aplicações do modelo de Opperman levadas a cabo por alguns dos seus seguidores, às quais não são alheios alguns edifícios das maiores empresas conserveiras portuguesas que se estabeleceram nesses mesmos portos pesqueiros do litoral, entre os quais destacamos algumas unidades que podem servir como modelos exemplares do início do Século XX:
a fábrica de conservas Lopes Coelho Dias a C.a Lda. (Matosinhos);
a fábrica de conservas Brandão Gomes, (Matosinhos);
a fábrica de conservas Santa Maria, da firma Parodí e Roldan, (Vila Real de Santo António);
a fábrica de conservas de atum em lata São Francisco de Francisco Rodrigues Tenório (Vila Real de Santo António),
a fábrica de conservas Feu y Hermanos, (Portimão);
a fábrica de conservas Santo António, da firma Júdice Fialho e C.a (Portimão).
Estas fábricas caracterizavam-se essencialmente por uma visível unificação dos edifícios em grandes quarteirões fechados, marcando a passagem da primeira fase, de adopção do modelo agrícola, para uma segunda fase, com um modelo próprio, caracterizado por um espaço fechado e especializado que, pouco a pouco, irá substituindo a organização inicial da unidade industrial pela simples adição de volumes.
Tal não significa que este modelo fabril (organizado em torno de um edifício principal caracterizado por um espaço fechado ao exterior), não tenha sido sujeito a ampliações diversas ao longo do tempo, o que se explica facilmente pela expansão comercial desta indústria emergente das primeiras décadas do Século XX.
Uma outra característica desta arquitectura reside na tipologia das fachadas e na sua implementação em espaço urbano: será preciso não esquecer que muitas destas primeiras fábricas eram construídas em arrabaldes, faixas do litoral ou ribeirinhas limítrofes às zonas urbanas, tendo sido, aos poucos, absorvidas pela expansão do tecido urbano dos centros portuários. Simultaneamente, foram em muitos casos centros geradores desses mesmos novos espaço urbanos, das quais a tipicidade toponímica de «rua da fábrica» é suficientemente esclarecedora.
6.2.4. Características espaciais e funcionamento geral
O edifício é projectado em extensão sempre que possível, procurando ocupar, a maior parte das vezes, quarteirões inteiros, constituindo-se geralmente de um só piso na zona de fabrico, destacando-se um volume de dois a três pisos na zona de escritórios, de forma a ser facilmente identificável [fig.175-176]. Estas características são comuns à maior parte dos edifícios conserveiros construídos, nesta primeira fase da indústria, pelo país todo no início do Século XX, assim como no caso de Matosinhos, pela maior parte dos edifícios fabris que vão ocupar a zona a sul do porto de Leixões, futuro complexo industrial 33.


Fig.177
Fábrica de conservas Feu y Hermanos, em Portimão; corte transversal com a rua, a secção de fabrico, e o cais junto ao rio Arade
Fig.177 Fábrica de conservas Feu y Hermanos, em Portimão; em cima: alçado da secção de vazio (demolida); em baixo: secção de fabrico e armazéns de cheio.
Deste modo é possível sintetizar as características gerais das fábricas desta primeira geração: 1) um edifício projectado em extensão (fig.157), ocupando por vezes quarteirões inteiros [fig.179], quando integrado no tecido urbano; 2) um espaço fechado ao exterior, dividido por funções, com um pátio em comunicação e articulação das várias secções [fig.179], integrando por vezes um cais de desembarque, quando a fábrica se encontrava à beira-mar ou à beira-rio [fig.178-179]; 3) uma zona de fabrico, geralmente não excedendo um piso de altura, e uma zona de administração com dois a três pisos facilmente identificável, surgindo integrada, na maior parte das vezes, no mesmo edifício, mas procurando quase sempre destacar-se pela sua expressão formal, no exterior e/ou no interior [fig.175-176]; 4) um sistema construtivo composto geralmente por paredes auto-portantes em alvenaria de pedra, tijolo, ou de argamassas diversas; um travejamento dos pisos em madeira, assim como pilares, também em madeira, quando fosse necessário vencer um vão [fig.179]; 5) a proximidade do edificado junto a uma linha de água, exterior ou subterrânea, permitindo o fácil escoamento dos detritos [fig.178]; 6) a inclusão, por vezes, de uma linha-férrea, com ligação directa aos ramais de distribuição.
33 No caso de Matosinhos, trata-se do sítio que ainda no século XIX se designava por Areal do Prado. Veja-se a este respeito o presente capítulo: 5.3.3.1. Origens do desenvolvimento urbano de Matosinhos.
6.2.5. Sistema de produção
O sistema de produção de uma fábrica de conservas em lata, tendo variado ao logo do tempo, caracteriza-se, em termos gerais, por um primeiro momento de uma produção em série inteiramente manual, sendo igualmente o fabrico da lata efectuado manualmente por soldadores, como classe operária distinta, demarcando-se do operariado conserveiro, exclusivamente composto por mulheres, e distinguindo-se também no espaço físico, por possuir uma unidade de solda integrada na unidade de fabrico ou noutro edifício em anexo [fig.179], (a secção de «vazio»34).
Noutros casos, o ofício da solda afirmava-se como actividade independente da conserveira e constituía-se então como uma indústria monoprodutora própria 35. As sucessivas invenções, decorrentes de uma crescente acentuação dos processos mecanizados, vieram contribuir para um cada vez mais rigoroso sistema de fabrico em cadeia e em série, com o qual se tomará mais fácil introduzir maquinaria cada vez mais especializada. Por exemplo, o processo de azeitamento, que tradicionalmente é realizado manualmente numa tina, passa a ser efectuado por máquinas automáticas (as azeitadeiras,). Outro ainda é o caso do fecho da lata, tradicionalmente efectuado pelos soldadores com recurso ao chumbo, (e que mais tarde veio a ser abandonado devido ao seu caráter tóxico), tendo sido totalmente substituído pelas cravadeiras automáticas, como no caso da Fábrica da Algarve Exportador, e assim por diante, etc.
34 Designou-se por secção de «vazio», porque decorria do facto de nesse determinado espaço a lata ainda se apresentar vazia.
35 Muito embora dependente das flutuações do mercado conserveiro.
Deste modo é possível apresentar o esquema de produção de uma fábrica de conservas de peixe em lata [quadro 3]. Contudo, tendo em conta que o processo sofreu inúmeras variações tanto no espaço como no tempo, é-nos impossível, no enquadramento geral deste trabalho, indicar todas as suas variações, pelo que se apresenta uma breve síntese do sistema de produção de base. Este sistema varia na disposição e articulação interna das várias funções nos primeiros espaços fabris. Mais tarde, com o esforço de racionalização decorrente de uma maior intervenção dos arquitectos nos projectos das fábricas da segunda geração, é possível observar-se uma semelhança cada vez maior entre este esquema abstracto e o espaço real projectado, nomeadamente no que diz respeito à organização da secção de fabrico, em série e em cadeia, como se poderá observar no caso da fábrica da Algarve Exportador em Matosinhos [v. infra, 6.2].

Quadro 1 – Esquema de funcionamento de uma conserveira: a fábrica recebe, a montante, a lata vazia vinda da secção de vazio, assim com o peixe conservado em sal (I.); na secção de fabrico (II.), procede-se em primeiro lugar ao descabeço e limpeza do peixe, sendo este de seguida lavado (1), passando à cozedura (2) e ao seu enlatamento nas latas recebidas da secção de vazio (3), sendo a operação efectuada pelas operárias nas várias bancadas; passa para a secção de azeitamento (4), sendo aqui o processo manual ou mecânico (executado pelas azeitadeiras); a lata é de seguida fechada nas cravadeiras (5), seguindo para a esterilização, efectuada por processo de autoclaves (6), sendo de seguida lavada (7), donde segue finalmente para o armazém de cheio, a jusante (III), onde se procede à verifição de cada lata (8), antes do seu embalamento (9) e armazenamento (10). [Note-se que este esquema se irá manter no caso da fábrica de Matosinhos de António Varela, assim como noutros projectos de sua autoria: a fábrica da Afurada e a remodelação da unidade de Lagos da AEL].
Em conclusão: alguns destes critérios, tanto a nível do sistema construtivo como do funcionamento, irão manter-se no decurso da segunda geração de fábricas, a partir dos Anos Trinta e Quarenta e na qual a Fábrica nº 6 da Algarve Exportador se integra. No entanto, se por um lado esta primeira geração se caracteriza por uma grande produção de latas de conservas por todo o território litoral, verifica-se, já na segunda geração, uma aproximação diferente no que respeita ao cuidado dos projectistas face a uma indústria que se especializava, através de um maior rigor funcional, dos sistemas construtivos e de uma sintaxe formal mais próxima do paradigma moderno.
Estes melhoramentos também contribuíram para um progressivo restauro e alguma remodelação das fábricas da primeira geração, que por vezes chegam até aos nossos dias com evidentes indícios de diferentes momentos construtivos, assim como a nível do funcionamento interno e das aplicações de elementos mais recentes.
É ainda possível considerar, de algum modo, que se a primeira geração «produziu latas», a segunda terá «produzido fábricas»… Esta imagem, apresentada por Jorge Custódio, poderá servir para distinguir os dois tempos na história da indústria conserveira: um primeiro tempo em que se apostou na quantidade, face a uma crescente exportação, e um segundo tempo em que se acentuou a qualidade, não só do produto, mas também no aperfeiçoamento das unidades fabris, o que passou obrigatoriamente por uma reflexão tipológica ao nível da arquitectura.
A primeira geração, que situamos entre 1880 e os primeiros anos de novecentos, caracterizou-se por uma predominância de produção da região centro (Lisboa, Setúbal, Sines, Peniche, Nazaré) e da região sul do país (Lagos, Portimão, Olhão e Vila Real de Santo António), enquanto que a partir de meados da década de Trinta começou-se a estabelecer uma clara hegemonia na região norte, em parte devido ao aumento de escassez dos bancos sardinha nas costas mais a sul.
Este novo dinamismo centrou-se em Matosinhos e foi assegurado pelo porto de Leixões, primeiro porto de pesca do país. A cidade de Matosinhos passa então a ser considerada, a partir de 1937, como o principal centro de uma indústria com uma característica maioritariamente exportadora, no limiar da Segunda Guerra Mundial 36.
Deste modo e para compreendermos o caso particular da fábrica nº6 da empresa Algarve Exportador Limitada, é necessário compreender a evolução desta empresa no espaço e no tempo e pelo que justificou a implantação desta última unidade fabril, pertencente à segunda geração tipológica, no norte do país.
36 CORDEIRO, José M. Lopes, A indústria conserveira em Matosinhos – exposição de arqueologia industrial, Câmara Municipal de Matosinhos, 1989, p.48.
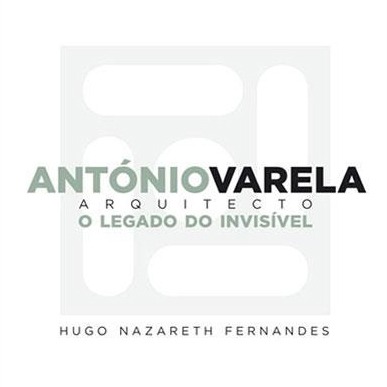
O Legado do Invisível de Hugo Nazareth Fernandes
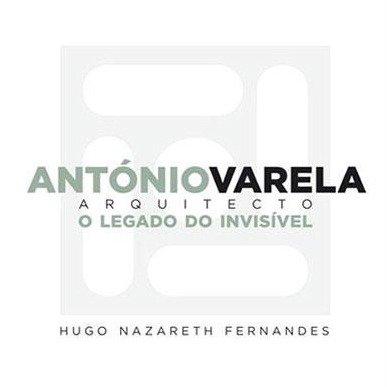
O Legado do “Invisível” 1 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL
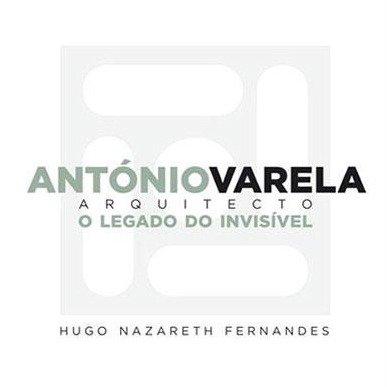
O Legado do “Invisível” 2 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)
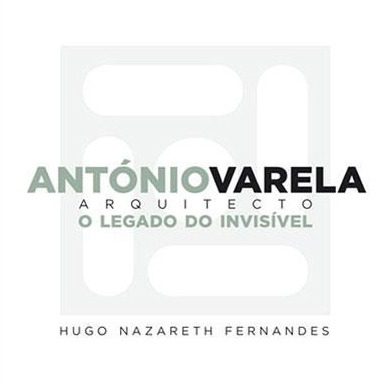
O Legado do “Invisível” 3 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)
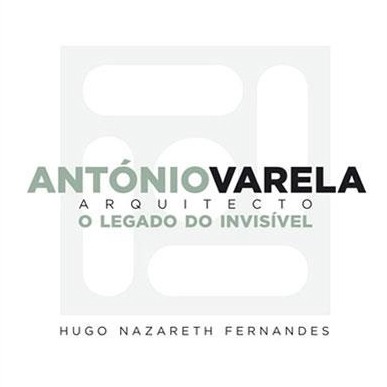
O Legado do “Invisível” 4 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)
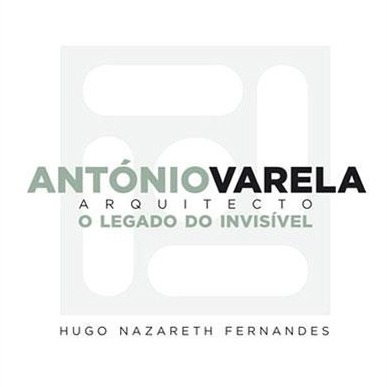
O Legado do “Invisível” 5 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)
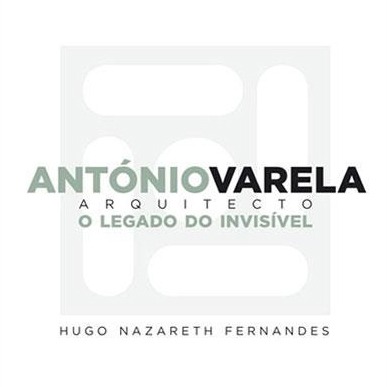
O Legado do “Invisível” 6 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (continuação)
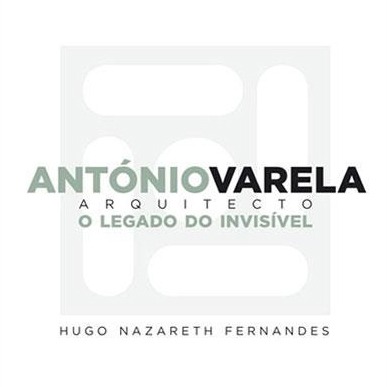
O LEGADO DO “INVISÍVEL” 7 – A FÁBRICA DE MATOSINHOS COMO OBRA FUNDAMENTAL (final)
Terms of use
Contact
investigacao@conservasdeportugal.com
Other project links